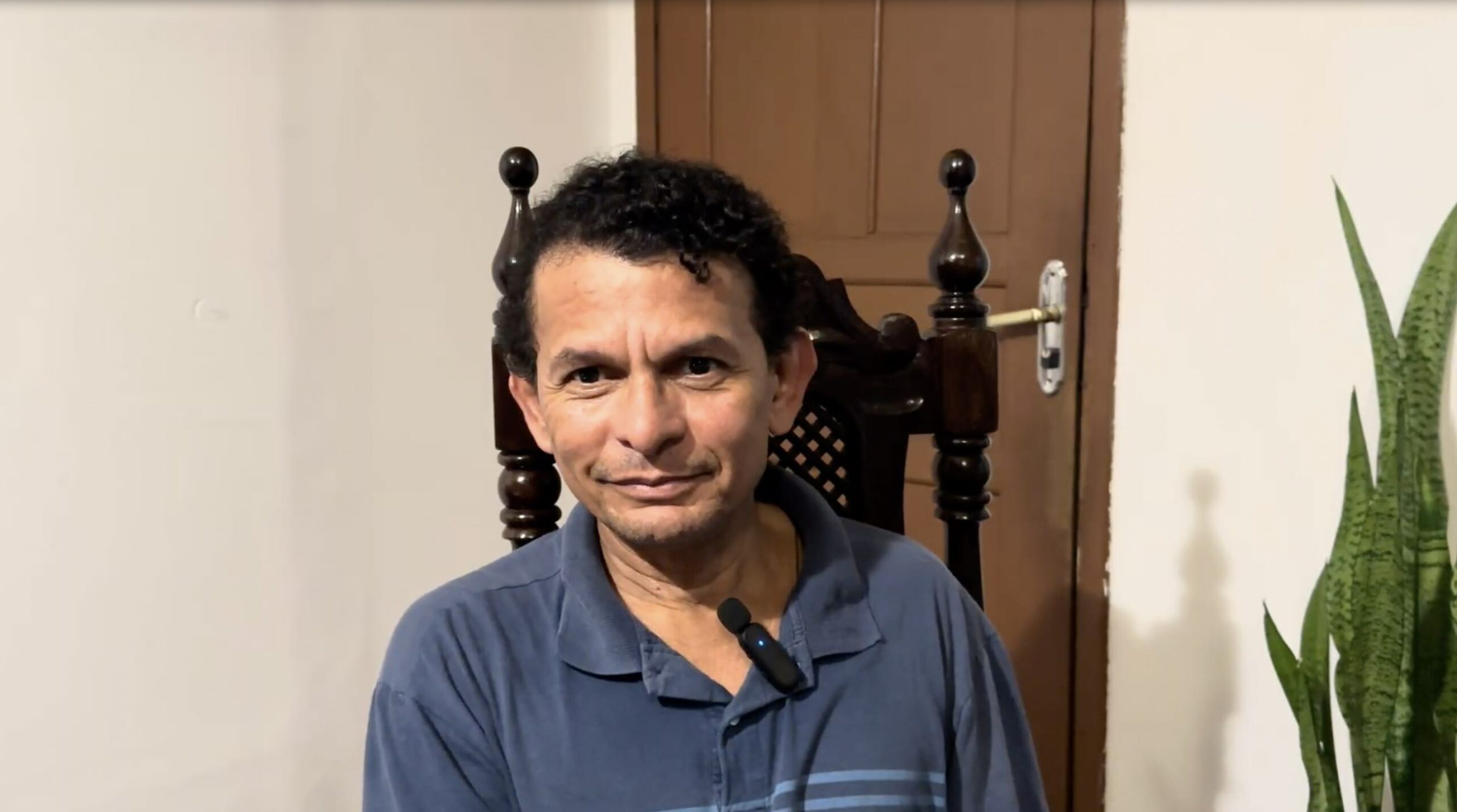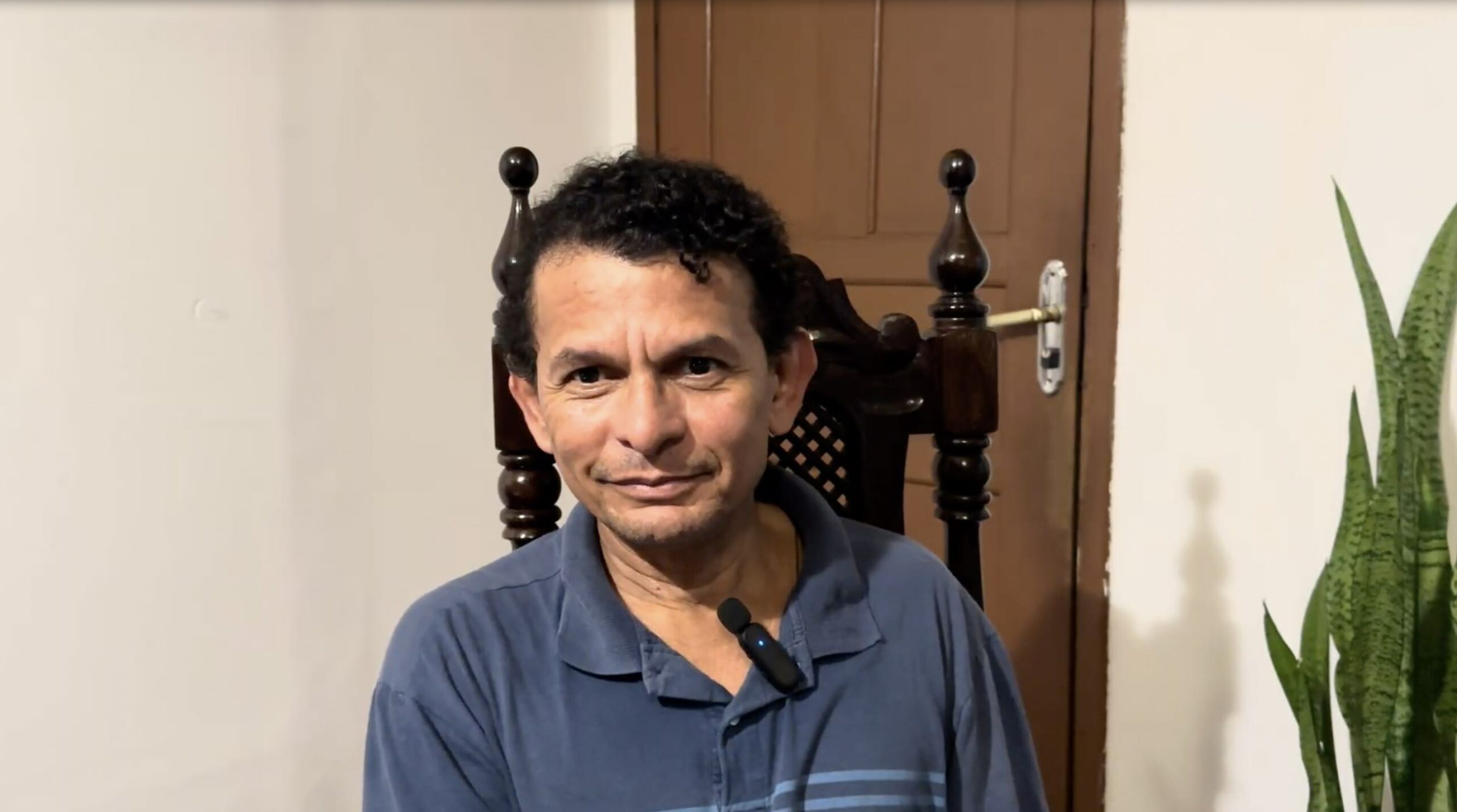
Flavio atua como consultor em microbiologia e indicadores de qualidade ambiental. Nascido em São Luís do Maranhão, retornou ao estado em 2003. Em sua entrevista, ele nos dá um testemunho preciso e direto sobre o estado crítico das águas da ilha de São Luís, entre poluição, falta de saneamento e desinteresse da população e das autoridades públicas.
Uma trajetória enraizada no estudo da vida
« Trabalho na área de meio ambiente desde 2005, logo após retorna para o Maranhão. A minha área de especialização é a microbiologia e os seus indicadores relacionados com os ambientes solo e aquáticos. »
Desde 2003, ao regressar ao Maranhão, dedicou-se ao estudo de microrganismos — bactérias, fungos, vírus — como ferramentas de diagnóstico ambiental. Em 2005, começou a trabalhar como monitoramento da qualidade dos meios aquáticos e solo do estado.
«O Maranhão é quase uma ilha, uma grande ilha continental… Possui 12 bacias hidrográficas, assim como a ilha de São Luís. O território é rico em água, mas a qualidade desse recurso é muito preocupante. »
Um recurso hídrico abundante, mas degradado
Flávio destaca a discrepância entre a abundância dos recursos hídricos e o seu estado sanitário:
«Temos muita água, mas a qualidade da nossa água é muito duvidosa. As autoridades públicas dispõem de informações, mas a população em geral não faz ideia do que são essesindicadores de qualidade da água. »
O crescimento urbano descontrolado e a falta de saneamento são, segundo ele, as principais causas dessa degradação.
Um sistema de saneamento dramaticamente deficiente
Flávio menciona uma constatação alarmante:
« Em São Luís, o tratamento de águas residuais não passa de 30%. Isso significa que 70% das águas residuais contaminam de alguma forma os lençóis freáticos ou as fontes de água superficial, que deságuam no mar. »
Ele explica que a ilha de São Luís está provavelmente rodeada por «Coliformes fecais », um indicador biológico que indica o nível de poluição. E continua:
« Segundo os padrões estabelecidos pela Legislação brasileira a água potável deve conter 0% de Coliformes fecais. A água para empregada para fins recreativos ou para balneabilidade (rios, lagos, praias, …), por sua vez, pode conter até 1.000 Coliformes fecais por 100 ml de água, o que é enorme…».
A banalização da poluição no uso diário
As práticas domésticas diárias contribuem para a degradação ambiental num contexto de carência estrutural de infraestruturas sanitárias, tanto em São Luís – MA como em muitas regiões do Brasil.
No município de Raposa, que faz parte da Grande ilha de São Luís, por exemplo, a taxa de acesso ao saneamento básico é extremamente baixa, estimada em 0,1%. A maioria das habitações dispõe apenas de fossas rudimentares, o que provoca a infiltração direta dos efluentes no solo e a potencial contaminação do lençol freático. Não existe qualquer infraestrutura de captação ou tratamento de águas residuais, o que agrava os riscos sanitários e ambientais a longo prazo.
Um sistema básico completo de saneamento deve incluir os seguintes componentes: gestão integrada de resíduos sólidos, captação, transporte e tratamento de águas residuais, bem como captação, tratamento e distribuição segura de água potável.
«Aqui, é comum ver lixo jogado na rua e, ver a “língua negra” correndo em valas nas ruas da maioria dos bairros da grande ilha e, em várias cidades do estado do Maranhão. »
Essa «língua negra » refere-se às águas residuais domésticas que acabam nos igarapés (pequenos cursos de água) antes de desaguarem no mar.
Paralelamente, observa-se o uso não racional da água potável, o que leva a um desperdício significativo dos recursos hídricos. A água destinada ao consumo humano é frequentemente utilizada para fins não essenciais, como limpeza doméstica (sanitários, descargas, limpeza de calçadas, com usos prolongados), lavagem de veículos ou ainda rega e limpeza das vias públicas, o que compromete a sustentabilidade do abastecimento de água, especialmente em contextos de crescente stress hídrico.
Dois desafios importantes se destacam:
– A necessidade de mobilizar os tomadores de decisões do poder público para priorizar e investir no desenvolvimento de infraestruturas básicas de saneamento;
– A importância de realizar ações de sensibilização junto às populações locais sobre as relações diretas entre condições sanitárias, saneamento, saúde pública e qualidade de vida.
Estas duas dimensões — institucional e comunitária — são indissociáveis para garantir a eficácia e a sustentabilidade das políticas de saneamento.
O fracasso da Educação Ambiental no Brasil
Flávio insiste na falta de sensibilização em todos os níveis, incluindo no mundo escolar:
«Os professores querem fazer a coleta seletiva, mas como fazê-lo se o município não tem estrutura para isso? »
Mesmo em São Luís, os esforços continuam mínimos:
« A coleta seletiva abrange, cerca 3 a 5% da população, o que corresponde à média nacional. Mas atualmente, não há um dado preciso para a porcentagem de coleta seletiva no Maranhão »
A situação é crítica: dos 217 municípios do Maranhão, apenas um possui aterro sanitário. Os demais têm lixões a céu aberto.
Um ciclo de poluição sistémica
Para Flávio, tudo está interligado: crescimento urbano desordenado e sem planejamento, ausência de políticas públicas, comportamentos de banalização, educação insuficiente, poluição generalizada. Ele conclui com um exemplo concreto:
« Vi uma entrevista sobre uma pessoa que tomava banho num rio chamado Pimenta, queafirmou que nunca não adoeceu. Era uma pessoa nativa, que cresceu tomando banho nesse rio. Na microbiologia, se diz que, o que não mata imuniza. Mas se trouxermos alguém da Europa e o colocarmos em qualquer um dos rios aqui da capital, exemplo rio Pimenta e/ou Anil, será fatal. »
A dissociação entre o conhecimento científico e a vida quotidiana
Quando Flávio realiza intervenções (palestras, cursos, …) em escolas ou perante agentes públicos, como por exemplos os bombeiros, compartilha de dados científicos sobre a qualidade da água, nomeadamente a presença de coliformes fecais nas águas balneares. No entanto, esse conhecimento tem pouco impacto duradouro:
« Eu explico: que no caso da Balneabilidade dos corpos hídricos, por exemplo nas praias,para cada 100 ml de água que bebem na praia, legalmente é aceitável 1.000 coliformes fecais. Eles responderam-me: “ Caramba, a que horas vou morrer?” »
Apesar do choque inicial, instala-se uma espécie de amnésia associada a banalização social.A informação é rapidamente esquecida, pois entra em conflito com a realidade quotidiana: as pessoas vivem em contato com os resíduos e esgoto sem consequências imediatamente visíveis.
Esta defasagem entre o conhecimento científico e a vida quotidiana da população em geral, impede o surgimento de uma consciência coletiva.
A invisibilidade das doenças e o fracasso da sensibilização
Flávio salienta que as patologias relacionadas com a água poluída, como as diarreias ou as doenças gastrointestinais, não são percebidas como sendo relacionadas a poluição em virtude do saneamento básico precário.
«Eles não percebem que, quando chegam aos 50 anos, têm enormes problemas gástricos. Não fazem a ligação. »
Ele lembra que os indicadores de doenças de origem hídrica aumentam significativamente a cada estação chuvosa, mas esses dados não são conhecidos, ou muito pouco, ou às vezes nem divulgados.
«Por mais que eu fale que a praia está em condições de imprópria para banho, as pessoas não têm acesso a essa informação e/ou nem sabem a importância disto. »
A dinâmica do mar: uma reciclagem permanente de resíduos
Apesar das iniciativas cidadãs como o grupo Salve as Praias, que recolhe até duas toneladas de resíduos a cada duas semanas, o mar traz novos detritos a cada maré.
«A nossa maré é muito forte, chega a atingir 6 a 7 metros. Se eu recolher hoje uma tonelada de resíduos, na próxima maré serão depositadas três ou quatro toneladas. »
Esta luta contra a poluição torna-se o «mito de Sísifo» dos ativistas ambientais: um esforço constante, mas condenado a ser anulado pela ausência de ações estruturais.
As consequências ecológicas e climáticas da inação
Para além dos desafios sanitários, Flávio lembra que a poluição orgânica contribui para a crise climática:
«Quanto mais despejamos águas residuais no mar, mais matéria orgânica são inseridas no sistema. A certa altura, essa matéria orgânica deposita-se no fundo da água e produz gás metano, que é um dos gases de efeito de estufa, com potencial maior que o gás carbônico».
A densidade da água também muda, o que altera o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. As espécies animais e vegetais mais frágeis desaparecem. Flávio acrescenta:
«O ser humano continua a ser um dos seres vivos mais adaptados às alterações climáticas, mas muitas outras espécies não sobreviverão. »
Ele alerta para a ruptura dos ciclos biogeoquímicos fundamentais: carbono, nitrogênio, fósforo. Cada ação humana – desmatamento, queimadas, derramamento de produtos químicos, esgoto e/ou lixo – contribui para essa desestabilização.
A frágil esperança trazida pela juventude e pelo conhecimento
Diante dessa situação, Flávio se recusa a sucumbir ao pessimismo, mesmo admitindo estar “desesperado com a humanidade”. Ele continua a ensinar, a sensibilizar, apostando nos jovens:
«São os jovens que vão sofrer as piores consequências. São eles que devemos educar e agir. »
Ele defende uma mobilização coletiva de cobrança da aplicação das leis já existentes.
« O que falta no Brasil não é legislação (leis). Faltam movimentos dos cidadãos para exigir a sua aplicação. »
Acesso limitado a análises ambientais: o obstáculo dos custos
Apesar das competências científicas e das tecnologias disponíveis, as análises da água ou do solo são caras:
« Uma amostra de água de 100 ml custa cerca de R$ 200, a depender da quantidade dos indicadores a serem avaliados. E, muitas das vezes, é necessário fazer uma centena por ano.»
Ele insiste: não se trata de falta de tecnologias, mas de ausência de parceiros financeiros para apoiar essas campanhas.
Exemplos demonstram que essas análises podem ser determinantes para comunidades locais em conflito com a agroindústria e/ou agronegócio. Mas sem financiamento, nenhuma prova pode ser apresentada juridicamente.
“O que limita hoje a capacidade de defender as comunidades são os recursos financeiros”.
Contaminantes invisíveis, mas persistentes
Flávio insiste na natureza instável e fugaz dos poluentes ambientais químicos. A sua detecçãorequer rigorosa precisão científica. «Se eu recolho, por exemplo, um mês depois ou 15 dias depois, corro o risco de não encontrar nada. » Ele explica que os estudos de poluição exigem amostragens frequentes em intervalos muito curtos: «Tenho de reduzir o tempo de amostragem e aumentar o número de amostras. »
No caso da água, «uma amostra corresponde a 100 ml de água», enquanto que para o solo«coletamos uma amostra de 500 g de terra». Cada análise tem um custo, que se multiplica rapidamente quando se procura estabelecer provas sólidas ao longo do tempo.
Um convite resultante de uma constatação comunitária
Flávio relembra o contexto da sua visita aos indígenas os Araribóias. O convite partiu de um antigo colega, na época em que Flávio trabalhava no Laboratório de Análises Ambientais da Secretaria de Estado.
A comunidade observou sinais de degradação da biodiversidade local: «Algumas espécies que eram significativas estão a morrer, a secar».
Face aos riscos sanitários, os habitantes deixaram de beber água do rio, preferindo os poços artesianos. Flávio salienta que o principal problema reside na vizinhança imediata: «A área dos indígenas está rodeada por pastagens, plantações intensivas de soja e eucaliptos tratados com pesticidas». Os insumos agroquímicos acabam por contaminar a água e o solo, numa indiferença total.
Questionado sobre os riscos enfrentados por aqueles que denunciam essas práticas, ele responde sem rodeios: «Estamos em perigo permanente. Como a agroindústria só se preocupa com os seus lucros, não se importa com o aspecto ecológico dos sistemas. »
A poluição invisível e a miséria silenciosa
Além dos pesticidas, Flávio chama a atenção para outro fator frequentemente negligenciado: os resíduos sólidos (lixo) e as águas residuais. Em muitas comunidades vulneráveis, incluindo a dos Araribóias, ele observa um padrão semelhante: «Resíduos e águas residuais […] E eles não sabem o que fazer. »
A ligação entre poluição e saúde pública raramente é percebida: «Eles não veem realmente a correlação com o plástico no rio…» Essa falta de conhecimento agrava a sua exposição.
Uma esperança condicionada ao financiamento
«Imagine, por exemplo, que eu ganhe hoje 52 milhões de reais. Eu criaria um laboratório e daria todo o apoio necessário às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. » Este sonho sublinha a amplitude do vazio estrutural. Poucas ou quase nenhuma das universidades locais dispõem de meios próprios, de equipamentos e/ou de recursos financeiros para realizarem este tipo de análises. Os raros laboratórios dependem de financiamento proveniente dos próprios poluidores.
Flávio conclui com um apelo implícito: todas as comunidades vulneráveis deveriam ter acesso a meios de análise independentes.
«O que seria necessário é que todas as comunidades de pescadores […] tivessem o direito de ter alguém que pudesse fazer as análises, de ter a sua própria gestão das análises. »
Os limites estruturais do sistema de vigilância ambiental
Flávio salienta a insuficiência dos protocolos institucionais de vigilância.
«Acha que recolher água durante uma semana vai resolver o problema? Não é o caso. » Em vez disso, recomenda um modelo de vigilância sistemática, com coletas entre 24 e no máximo 48 horas.
Ele lamenta que os órgãos públicos não levem o processo até o fim: «Eles fazem apenas o mínimo necessário. […] É no nível da amostragem que nossa legislação é insuficiente. »
Uma estratégia de esperança baseada no conhecimento local
Em conclusão, Flávio propõe uma visão de futuro baseada na complementaridade entre o conhecimento das comunidades locais tradicionais e/ou indígenas e a expertise científica:
«Penso numa estratégia que seria a seguinte: reunir o conhecimento das comunidades tradicionais, que têm conhecimento local […] e procurar recursos para gerar dados com rigor científico. »
Ele apela a uma verdadeira colaboração: «É preciso envolver as populações tradicionais e/ou indígenas neste processo. […] Não se trata apenas de dar dinheiro. »
O objetivo não é apenas provar cientificamente a poluição, mas transformar as práticas através do diálogo e da transferência de conhecimentos.
Testemunhos do mesmo painel